STF e o Controle de Constitucionalidade: Um Debate em Torno de Limites e Ativismo Judicial
O recente julgamento da ADPF 973 expõe uma divisão profunda dentro da esfera judicial brasileira, refletindo duas perspectivas sobre o papel do Supremo Tribunal Federal (STF) em questões de constitucionalidade. Essa discussão destaca a transformação da interpretação da Constituição em uma ferramenta potencialmente manipuladora no cenário político nacional, uma trama que entrelaça diferentes jurisprudências e teorias sobre o ativismo judicial.
Na essência da controvérsia, está a questão de como os direitos fundamentais e os princípios constitucionais são aplicados e interpretados em relação à realidade social. O voto do ministro Edson Fachin, por exemplo, destaca um reconhecimento do racismo estrutural como um estado de coisas inconstitucional, indo além da mera violação de um artigo específico da Constituição. Para Fachin, o que está em jogo não é apenas a letra da lei, mas o compromisso do Estado em honrar suas promessas constituídas, especialmente em relação à população negra.
No entanto, essa abordagem levanta questões pertinentes sobre a legitimidade e a autoridade do STF. A leitura de Fachin transforma a Constituição em um documento voltado para a realização das utopias sociais, o que pode ser interpretado como uma tentativa de o Judiciário assumir funções tradicionalmente reservadas ao Legislativo e ao Executivo. Ao fazer isso, o STF pode estar ultrapassando os limites impostos pela separação de poderes, um princípio fundamental no Estado democrático de direito.
O entendimento de que a distância entre o que a lei prevê e a realidade social é o parâmetro para a constitucionalidade ignora a função restritiva da Constituição de 1988, que não autoriza a o STF a declarar a inconstitucionalidade de condições sociais, mas apenas de ações normativas e omissões concretas. Isso nos leva a questionar: até que ponto o Judiciário deve se envolver na criação e implementação de políticas públicas?
O ministro Gilmar Mendes, embora em sua posição com um tom mais cauteloso, também ecoa preocupações similares ao reconhecer uma omissão inconstitucional do Poder Executivo. Mendes, similar a Fachin, critica a inadequação das políticas existentes, porém, o que se observa é uma continuidade da lógica de responsabilização do Judiciário sobre a eficácia dessas políticas públicas.
Ambos os votos, mesmo com suas nuanças, revelam um padrão preocupante: o Judiciário agindo como um avaliador contínuo da eficácia de iniciativas governamentais. Essa postura pode criar um espaço perigoso, onde o STF não se limita a interpretar a lei, mas busca moldar a realidade social de acordo com suas próprias avaliações de justiça e igualdade.
Ademais, os dispositivos constitucionais mencionados nos votos, que incluem a dignidade da pessoa humana e objetivos fundamentais da República, são utilizados como base para transformações sociais, mas ignoram uma distinção chave. Esses objetivos não são, em essência, imposições que autorizam o Judiciário a definir como e quais políticas devem ser implementadas. As diretrizes que regem a pobreza, desigualdade e bem-estar coletivo são linhas orientadoras para a ação dos poderes, não ordens jurisdicionais.
A declaração da existência de uma omissão por parte do poder Executivo, que exige um novo Plano Nacional de Enfrentamento ao Racismo, exemplifica essa confusão. O problema da omissão não é mapeado pela violação de um preceito claro, mas pela avaliação de que os esforços anteriores não foram suficientemente eficazes. Essas decisões não apenas geram um ativismo judicial em teoria, mas também, na prática, estabelecem o Judiciário como um protagonista na governança.
Essa tendência se assemelha a um governo por jurisdição, onde o Judiciário se vê como responsável por definir as condições, metas e avaliações das políticas públicas. Apesar das alegações de não haver uma substituição direta do Executivo, a realidade é que o Judiciário começa a ditar os termos da implementação de políticas públicas. Esse fenômeno desafia a separação de poderes, consagrada na Constituição.
No cenário internacional, esse tipo de ativismo judicial não encontra paralelo nos debates contemporâneos ocorridos em jurisdições, como a dos Estados Unidos, onde a jurisprudência tem enfatizado a importância da contenção e da definição dos limites do papel judicial. As decisões recentes da Corte de Apelações do Seventh Circuit, por exemplo, ilustram a premissa de que o Judiciário não deve assumir a tarefa de supervisão minuciosa das operações do Executivo, a fim de evitar danos institucionais irreparáveis.
No caso de Ames v. Ohio Department of Youth Services, a Suprema Corte dos EUA reafirmou que o compromisso com direitos individuais deve prevalecer sobre o desejo de supervisionar operações administrativas cotidianas. Do mesmo modo, em Students for Fair Admissions v. Harvard, a Corte se opôs categórica às classificações raciais inequívocas, lembrando que a boa intenção não pode suprimir limites jurídicos. Uma visão semelhante deve prevalecer na jurisdição brasileira, onde a Constituição não dá ao STF a autorização para controlar a execução das políticas.
Essas comparações apontam um caminho claro: enquanto decisões em outras jurisdições reafirmam a necessidade de contenção e o respeito às delimitações do poder judicial, as abordagens reafirmadas por Fachin e Mendes, na ADPF 973, tendem a dissolver as fronteiras que definem o que cabe ao Judiciário e ao Executivo.
A situação é ainda mais complexa quando se considera que o ativismo judicial pode ser percebido como justiça social, mas, na prática, pode desenhar um mapa onde o Judiciário é chamado em momentos de crise, a um custo de deterioração do sistema democrático. Assim, o diálogo institucional passa a operar não como um complemento, mas como uma forma de gestão do poder por parte de um tribunal, que deveria restringir-se à proteção da Constituição.
Em suma, o julgamento da ADPF 973 não representa apenas mais um ponto em um debate sobre o ativismo judicial, mas sim um reflexo de uma crise de compreensão sobre os limites constitucionais. A dificuldade em reconhecer que a Constituição de 1988 é, acima de tudo, um acordo que impõe restrições ao exercício do poder evidência uma falha que vai além das questões interpretativas: é uma questão de integridade republicana.
O verdadeiro desafio está em entender que a missão do intérprete da Constituição deve residir na defesa da legalidade, sem perder de vista que o poder não deve ser confundido com a vontade populacional em um contexto de respeito aos limites do direito. Quando a interpretação da lei se transforma na busca pela realização de ideais sociais, a separação de poderes se abala e, com isso, a estrutura fundamental da democracia também é ameaçada.
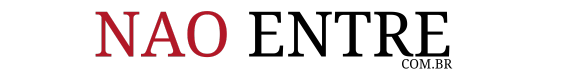


Deixe um comentário